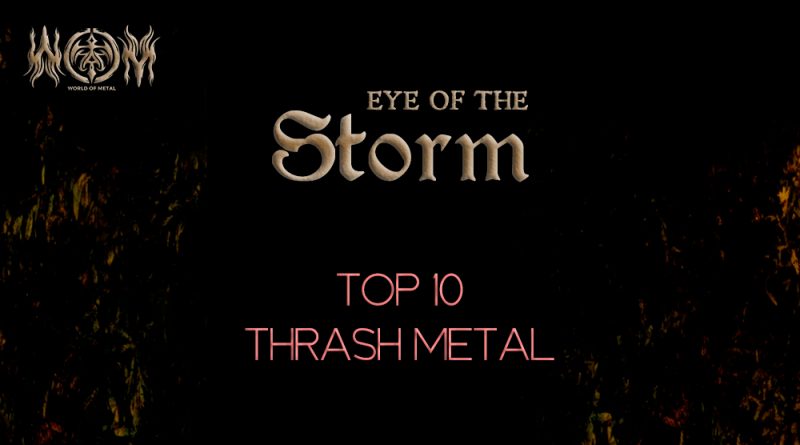Eye Of The Storm #1 – Top 10 álbuns – Thrash Metal
Top 10 álbuns – Thrash Metal
Por Daniel Laureano
O velho thrash é um dos mais conhecidos subgéneros metálicos e tem, por costume generalizado, o condão de despertar reacções extremas, tanto pela positiva como pela negativa. Ora, nesta gaveta musical de onde já saíram alguns dos maiores baluartes da música pesada mundial – com os Metallica naturalmente à cabeça – analisar a pool de output discográfico ao longo dos seus 30 e muitos anos de história é uma tarefa que nunca deixa de apresentar resultados díspares.
Sabendo e assumindo que na música a linha do bom gosto tende a ser muito ténue, e que na lei universal da relação quantidade-qualidade a balança nunca estará equilibrada, é fácil imaginar que um género musical que se baseia sobretudo em rapidez rítmica e num nível grande de temáticas revolucionárias tanto se arrisca a resvalar no foleiro como a surpreender pela positiva.
Neste sentido, e aplicando a máxima de “senhor doutor, por favor diga-me primeiro as más notícias”, é fácil identificar um bom número de aspectos que jogam contra a reputação do thrash metal, com destaque para a falta de pensamento criativo inovador, verificado através de casos de bandas e artistas cujo objectivo passa sobretudo pela cópia – exacta e estanque – de uma série de tropos e clichês relacionados com o consumo excessivo de cerveja e/ou a revolta contra um sistema político ou social cujos próprios letristas nem sempre se apercebem bem de qual será. Tudo isto, aliado à prepotência da agressividade sónica, que muitas vezes acaba por se tornar aborrecida devido à falta de dinâmica ou variedade da palete sonora utilizada, bem como a atitude displicente de muitos dos seus executantes, são factores que jogam mais contra a validade artística e intelectual do género do que a seu favor.
Agora que passámos um par de parágrafos a dar algumas estocadas no lado mau da coisa, podemos dedicar os seguintes a apreciar aquilo que o thrash tem de melhor, que, como em tudo na vida, acaba por ser tão mais gratificante quantos mais exemplos negativos existirem, para ser possível traçar comparações. E isto é aquilo a que me proponho fazer nesta minha nova lista – separar o trigo do joio, mantendo sempre bem clara a noção de que este é somente o meu gosto pessoal, e que o mesmo não precisa de reflectir, de uma maneira ou outra, as opiniões públicas generalizadas acerca de um qualquer disco que aqui nomeie.
Antes de apresentar os meus 10 álbuns de thrash metal favoritos de todos os tempos, deixo cinco menções honrosas, a trabalhos que poderiam perfeitamente integrar esta lista, tal é o meu gosto por eles, mas que desta vez, também devido à vontade de privilegiar a análise a vários artistas diferentes, ficarão de fora:
Death Angel – «The Dream Calls For Blood» (Nuclear Blast, 2013);
Exodus – «Bonded By Blood» (Torrid/Combat, 1985);
Megadeth – «Rust In Peace» (Capitol Records, 1990);
Metallica – «Ride The Lightning» (Elektra/Vertigo, 1984);
Slayer – «Reign In Blood» (American Recordings, 1986).
Posto isto, comecemos…
- Evile – «Five Serpent’s Teeth» (Earache Records, 2011)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-3182956-1517402025-6189.jpeg.jpg)
A onda de thrash revivalista que começou a proliferar sobretudo na última década, repleta de jovens bandas que se basearam nos grandes clássicos dos anos 80 para criar novas músicas nos mesmos moldes, sempre teve a si associado o estigma negativo da cópia. Em nome da honestidade mental não podemos dizer, em grande parte dos casos, que esse rótulo fosse aplicado injustamente, tamanha era a fidelidade de bandas como Lich King, Bonded By Blood ou Municipal Waste, entre outros, ao som da corrente banda de thrash de 1987 ou 1988.
Os Evile inserem-se neste grupo de bandas, eles que com os seus dois primeiros trabalhos – «Enter The Grave» e «Infected Nations» – apresentaram uma proposta musical semelhante a muitos dos seus contemporâneos desta onda, com uma competência técnica elevada e boa composição de temas, mas sem mostrar demasiada personalidade, ou algo que os destacasse, tanto das clássicas bandas nas quais se basearam, como dos milhentos outros grupos revivalistas.
A monotonia foi quebrada (e de que maneira) com o seu terceiro disco, este «Five Serpent’s Teeth», composto e lançado em 2011, quase dois anos após a traumática morte do baixista Mike Alexander – algo que representa um trágico ponto de contacto com os Metallica, uma das maiores influências do colectivo britânico – e cujos pontos de contacto sonoros, líricos e até visuais também representaram uma das maiores críticas que foi sendo feita a este trabalho dos Evile, que até chegou a ser apelidado como o seu «Black Album».
Dependendo de quem parte, esta comparação pode ser feita através de um prisma depreciativo ou elogioso – pessoalmente, a minha opinião alinha-se com a desta segunda categoria: «Five Serpent’s Teeth» é uma proposta musical estrondosa, repleta de conteúdo lírico de alta qualidade e uma variedade sonora que nem sempre é comum em álbuns de thrash. Dos riffs frenéticos da faixa título, “In Dreams Of Terror” e “Descent Into Madness” ao midpace sinistro de “Xaraya” e “Centurion”, passando pela onda rock de “Cult” e pela melancolia da balada “In Memoriam”, este disco mostra todo o potencial de um colectivo que aparenta apenas o ter atingido em um dos seus quatro trabalhos de estúdio. Mas a banda ainda vai a tempo de lançar outras bombas destas, uma vez um disco como este nunca poderia ser criado por acidente, mas sim pela inequívoca qualidade e criatividade dos seus compositores e executantes.
- Sepultura – «Arise» (Roadrunner Records, 1991)

Os reis do metal brasileiro já levam largas décadas de fama e controvérsia pelos meandros do mundo da música pesada. Desde os primeiros lançamentos dos anos 80 – ainda incrivelmente crus, mas com uma atitude como pouco se tinha visto até então – ao sucesso mainstream atingido pelas desafiantes experimentações efectuadas em álbuns como «Chaos A.D.» ou «Roots», passando depois pela metamorfose sofrida já com Derrick Green ao microfone, ele que contribuiu para trabalhos que foram oscilando entre o esquecível e o sublime.
(nota do autor: o «Dante XXI», lançado em 2006, bem dentro da era pós-Max Cavalera, é um autêntico clássico da música moderna e o meu álbum favorito de sempre dos Sepultura. Um dia talvez escreva um artigo sobre isso. Estou preparado para o apedrejamento.)
Regressando à primeira década da carreira dos Sepultura e analisando esse mesmo período, as sucessivas etapas de crescimento que os levaram do grito do Ipiranga que foi a gravação suja e low-fi do EP «Bestial Devastation» ao thrash já bem mais maduro de «Beneath The Remains» foi notável, particularmente quando nos apercebemos que estamos a falar de um intervalo de apenas 4 anos, mais concretamente de 1985 a 1989, mas foi com «Arise», lançado em 1991, que os nativos de Belo Horizonte gravaram definitivamente o seu nome no salão dourado de nomes do metal mundial.
O disco abre com os sons abstractos que servem de introdução para a faixa-título, um dos mais icónicos temas dos mineiros, e que ainda hoje é considerado um dos momentos mais altos da história do thrash metal, antes de mergulhar nos riffs devastadores de “Dead Embryonic Cells” e “Desperate Cry”, música que contém uma inesperada secção melódica que faz lembrar gloriosas composições dos lendários Iron Maiden, e que colocam o guitarrista Andreas Kisser em plano de evidência. “Murder” fecha aquela que é uma das mais intensas sequências de faixas na abertura de qualquer disco de metal e os riffs esmagadoramente arrastados de faixas como “Altered State” e “Under Siege (Regnum Irae)” oferecem um bom contraponto ao ritmo insano dos primeiros quatro temas deste «Arise».
Por norma, tenho tendência a não contar faixas bónus como parte integrante dos álbuns que analiso, mas tomo a liberdade de abrir uma excepção para a brilhante versão de “Orgasmatron”, um original dos Motörhead, a quem os Sepultura prestaram uma fantástica homenagem.
- Kreator – «Phantom Antichrist» (Nuclear Blast, 2012)

Vamos agora das húmidas florestas tropicais do Brasil às ruas frias da Alemanha, ao encontro de um outro mastodonte do género pelo qual viajamos neste artigo, no caso os poderosos Kreator, que desde os primeiros dias da sua história, que remontam ao ano de 1982, se têm assumido como um dos, senão mesmo o principal nome da cena thrash europeia.
Apoiantes de uma mentalidade com objectivos criativos bem mais diversificados do que os seus compatriotas Sodom ou Tankard, a discografia da banda da Vestefália é um espelho perfeito deste mesmo aspecto, com exemplos que vão do black/thrash abrasivo e violento de álbuns como «Endless Pain» ou «Pleasure To Kill» e o pseudo-thrash subtil e intelectual de «Coma Of Souls» às experimentações industriais de «Renewal» e escapadas góticas dos lindíssimos «Outcast» e «Endorama», antes do advento da infusão de cargas melódicas próprias do melodeath moderno, nos discos que surgiram a partir de «Violent Revolution», que coincidentemente foi lançado no virar do milénio.
(nota do autor: eu juro que não faço de propósito, mas o «Endorama» é efectivamente o meu álbum favorito de toda a discografia dos Kreator. Podem dobrar a dose de pedras.)
Ora, foi precisamente a partir do virar do milénio que os Kreator lançaram a sua mais impressionante sequência de álbuns de thrash, com a trilogia «Enemy Of God», «Hordes Of Chaos» e «Phantom Antichrist», o trabalho que representou o clímax das antífonas de melodias épicas do colectivo germânico, e que elejo como mais completo, muito por influência do êxtase das mensagens de rebelião, capazes de serem interpretadas tanto como literais gritos de armas, que faziam eco das grandes revoluções que se foram vivendo nos anos anteriores a 2012 (o advento das primaveras árabes e dos desacatos sociais na Grécia, entre outros), como metáforas para o apelo à força interior de cada ser humano, nas resoluções das suas batalhas pessoais.
Este super-tema lírico acompanha o plano musical, onde os riffs poderosos e ardentes leads de guitarra dialogam em velocíssima linguagem com a secção rítmica, através de autênticas enxurradas de trovões, capazes de destruir qualquer campo de batalha. Não existe uma única faixa fraca na tracklist, onde temas como a antémica “From Flood Into Fire”, a galvanizante “Victory Will Come” e as pesadíssimas “Phantom Antichrist” e “Civilization Collapse” são perfeitamente capazes de rivalizar com qualquer música dos seus clássicos discos dos anos 80 e 90, e vivem como autênticos diamantes na já longa carreira de sucesso desta grande banda de guerreiros teutónicos, que parecem só melhorar com o passar dos anos.
- Slayer – «Seasons In The Abyss» (American Recordings, 1990)

Os Slayer são um fenómeno bem documentado. Uma das mais extremas bandas de metal que alguma vez logrou atingir reconhecimento fora da esfera da música alternativa, ainda que nem sempre pelos melhores motivos – o caso do assassinato de Elyse Pahler, em 1996, e a controvérsia em torno da capa do álbum «Christ Illusion» são exemplos notáveis –, são também donos de uma discografia com bastante consistência, algo que nem sempre é veiculado através da opinião popular.
Fruto da sua atitude musical impiedosa e posição extremamente crítica em relação à religião organizada, algo que se tornou num dos baluartes da lore do quarteto oriundo de Huntington Park, CA, os Slayer sempre atraíram uma base de fãs extremamente fiel, capaz de (literalmente) sangrar pela banda, tal o grau de fanatismo. Para isto contribuíram, em grande escala, os primeiros lançamentos da sua carreira, na ocasião «Show No Mercy» e «Hell Awaits», autênticos exercícios de definição e destruição de barreiras entre o thrash, o death metal e o black metal, mas o verdadeiro estatuto de banda-culto só foi atingido com o lançamento de «Reign In Blood», trabalho que contém autênticos clássicos intemporais, como “Angel Of Death” ou “Raining Blood”.
Partindo deste ponto, é impossível negar que tanto «Reign In Blood» como o seu sucessor «South Of Heaven» são trabalhos fantásticos, algo que torna particularmente curioso verificar que a vitória criativa que a banda alcançou em «Seasons In The Abyss» nasce precisamente do casamento entre os aspectos mais característicos dos seus dois antecessores – em termos gerais, a agressividade vertiginosa do primeiro foi misturada com os grooves lentos e a atmosfera sombria do segundo, acabando assim por criar um conjunto de temas com mais profundidade e articulação entre diferentes formas de transmitir peso e agressividade através de som, algo que se torna evidente ao pôr lado a lado “War Ensemble” com “Dead Skin Mask”, “Born Of Fire” com “Expendable Youth” ou “Temptation” com a faixa-título.
Este jogo de oscilações entre rápido e lento torna-se num dos aspectos mais interessantes do álbum que acabou por ditar o afastamento do baterista Dave Lombardo, cujo trabalho de duplo bombo nunca passa despercebido, sendo sempre um dos eternos destaques dos discos nos quais participa.
No que toca ao casamento entre todos os instrumentos, bem como linhas vocais, faixas como “Spirit In Black” ou “Blood Red” merecem um destaque especial da minha parte, pela subtileza das composições, uma característica que poucas vezes é associada aos Slayer. Tal é um osso do ofício de um colectivo que cimentou o seu legado ao procurar ser sempre o mais pesado e blasfemo possível, algo que muitas vezes até ofusca a progressão criativa que o seu catálogo vai revelando.
- Megadeth – «Peace Sells… But Who’s Buying?» (Capitol Records, 1986)

Liderados pelo carismático Dave Mustaine, dono de uma personalidade tão cativante quanto complexa, os Megadeth nasceram da dissensão entre o mesmo e os Metallica, banda à qual pertenceu durante dois anos e da qual foi despedido, sobretudo devido aos choques de ego entre ele e os dois membros fundadores da futura maior banda de metal do mundo, Lars Ulrich e James Hetfield.
Determinado a criar uma banda capaz de superar os seus antigos companheiros, em termos de rapidez, peso e irreverência lírica, Mustaine, que se manteve como a única figura constante no lineup da sua banda ao longo dos seus já mais de 30 anos de história, teve um percurso discográfico repleto de altos e baixos: depois da estreia morna pela mão de «Killing Is My Business… And Business Is Good!» veio uma sequência impressionante de grandes clássicos – do álbum que dá o título a este segmento a «Countdown To Extinction», passando pelo icónico «Rust In Peace», antes de uma altura de menor fulgor, com discos como «Risk», um revivalismo impressionante com a dupla «United Abominations» e «Endgame», e nova baixa de qualidade com os trabalhos mais recentes, dos quais «Super Collider» é o destaque pela negativa.
Devo dizer que escolher entre este «Peace Sells… But Who’s Buying?» e o «Rust In Peace» é difícil, dado o soberbo nível de ambos os trabalhos, álbuns de qualidade elevadíssima, algo que é evidente ao pensar nos temas que se encontram neste segundo: “Holy Wars… The Punishment Due”, “Hangar 18”, “Tornado Of Souls”, enfim… Um verdadeiro livro de honra da música pesada. Fica então aqui, em adequado registo, o parágrafo de apreciação ao «Rust In Peace», sem o qual não me sentiria bem a continuar.
Acabo, no entanto, a dar sempre vantagem ao álbum que escolhi para analisar, quando me debruço sobre a ingrata tarefa de pensar em qual será o melhor trabalho da banda californiana. A intensidade sónica dos temas é um dos principais factores de interesse ao longo de todo o disco, com os riffs milimetricamente precisos e batidas impiedosas a fazer cama para os guinchos agudos de Mustaine, sendo pertinente estender aqui um destaque particular a David Ellefson, cujas linhas de baixo formam um dos elementos mais fortes de todo o disco. “Wake Up Dead” e “Peace Sells” oferecem perfeitos exemplos das linhas orelhudas que o baixista – também ele membro fundador – logrou criar.
Nota ainda para as letras, que também assumem um papel de destaque, elas que vão desde o comentário sócio-político de “Peace Sells” às deambulações de um condenado à morte, no tema “Devils Island”, passando por rituais satânicos e jogos de roleta russa (“Bad Omen”, “The Conjuring” e “My Last Words”), assassinos em série e traições inter-relacionais (“Good Mourning/Black Friday” e “Wake Up Dead”), havendo até espaço para uma versão de Willie Dixon (!), na ocasião o tema “I Ain’t Superstitious”.
- Testament – «Practice What You Preach» (Atlantic/Megaforce, 1989)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-1059260-1492883538-7777.jpeg.jpg)
No capítulo dos reconhecimentos mal dados, os Testament são sempre a banda que me surge na mente quando penso em bandas de thrash que mereceriam ter alcançado um estatuto de fama semelhante àquele do qual os integrantes do chamado Big Four actualmente gozam – parece-me que a qualidade musical das suas composições dos Testament, bem como a frescura que sempre souberam trazer à sua marca muito particular de metal, são aspectos notáveis que, por si só (leia-se: sem entrar no reino financeiro), já justificariam a extensão do famoso grupo para um hipotético ‘Big Five’.
A banda iniciou o seu percurso com as melodias cativantes, batidas velozes e riffs de guitarra poderosos dos primeiros álbuns – «The Legacy» e «The New Order» – antes de embarcar numa expansão de influências sonoras, através de trabalhos como «Low» ou até «The Gathering», nos quais a banda foi experimentando com a intensidade dos vocais guturais próprios do death metal, antes de trazerem de volta ao grupo o carismático guitarrista Alex Skolnick, que, por sua vez, trouxe o regresso do thrash metal aos trabalhos a partir do excelente «The Formation Of Damnation», onde a banda adicionou um toque moderno à fórmula dos anos 80.
Apesar das viagens pelos reinos do metal extremo efectuadas pelos norte-americanos a partir dos meados dos anos 90 terem correspondido à mudança mais brusca do seu percurso, as alterações começaram a surgir anteriormente, numa tríade de álbuns onde os Testament foram adicionando cada vez mais elementos de rock e heavy metal clássico ao seu som característico. Em ordem de lançamento inversa estes discos são «The Ritual», «Souls Of Black», e o álbum que deu início à metamorfose dos nativos de San Francisco, «Practice What You Preach».
Hoje considerado um disco icónico, este «Practice What You Preach» foi o disco que mais atenção trouxe à banda, através dos seus temas líricos, agora mais ligados à sociedade e à política, ao contrário do ocultismo e misticismo presentes em “The New Order”, e da produção mais limpa e cuidada, que muito fez sobressair os excelentes arranjos de temas como a icónica faixa-título, além de “Perilous Nation”, “Sins Of Omission” ou “Nightmare (Coming Back To You)”, entre outras.
Para finalizar, considero extremamente importante oferecer um destaque particular à canção “The Ballad”, que com o seu título bastante apropriado, foi a primeira da sua espécie para a banda americana, tendo também dado início a uma sequência de quatro esplêndidas baladas que se estenderam pelos seguintes discos – a saber, “The Legacy” no «Souls Of Black», “Return To Serenity” em «The Ritual» e “Trail Of Tears” no «Low». Na minha opinião, as baladas são um dos aspectos que mais distancia os Testament de muitos dos seus colegas de género, pela qualidade musical dos seus arranjos, bem como os rios de emoção bem genuína que as banham, e “The Ballad” denota todas essas características: um poema lindíssimo sobre filosofia pessoal, auto-motivação e determinação para lidar com as vicissitudes e os desafios da vida, cantado por um Chuck Billy em topo de forma e acompanhado pelos acordes cristalinos da guitarra acústica de Eric Peterson, bem como os belos solos de Alex Skolnick, de suster a respiração. Uma obra-prima.
- Trivium – «Shogun» (Roadrunner Records, 2008)

“O que estão os Trivium a fazer numa lista de melhores álbuns de thrash? Eles são claramente metalcore/emo/*inserir género aqui*! E são maus! Deve ser gozo!”
Parece que já consigo, através de transmissão telecinética, ouvir os pensamentos dos puristas do género que, por algum curioso acaso do destino, por si dão a ler a minha humilde lista, aqui na World Of Metal. Pois bem, como é sabido sou da opinião de que os rótulos devem ser utilizados na correcta medida das vantagens que trazem, ou seja, sobretudo como uma ferramenta lata de organização e descoberta musical, e não como desculpa para quartar a apreciação de certos trabalhos cujas características possam não encaixar a 100% no cânone mais tradicional de um qualquer género.
Neste sentido, parece-me pertinente reconhecer a pronunciadíssima costela thrash que os americanos Trivium sempre tiveram no seu som, em simbiose com o metalcore moderno, característico do ADN de muitos dos filhos metálicos dos anos 2000. Ao longo dos lançamentos discográficos desta conhecida banda, o pêndulo foi oscilando entre mundos, é verdade – a contrabalançar cada álbum de 80% core + 20% thrash como «Ascendancy», temos um com clara predominância do lado thrash, como «The Crusade»; por cada exercício de exploração a fundo do metalcore como «In Waves», temos um «Silence In The Snow», que vai beber muito à fonte das grandes lendas do metal clássico, como Dio ou Saxon; ainda um «The Sin And The Sentece», que casa todas as incarnações anteriores dos Trivium e atinge um meio-termo entre tudo o que esta inovadora banda já fez.
É neste seguimento que viro o foco para aquele que é o disco mais ambicioso da carreira do grupo: «Shogun». Inspirado por várias lendas da mitologia japonesa, – herança cultural do líder Matthew Kiichi Heafy – este disco representou um marco incontornável no percurso dos nativos da Flórida, pela complexidade estrutural e progressão instrumental que banham todas as faixas, do tom frenético de “Kirisute Gomen” (que significa algo como ‘peço desculpa por te matar’, em japonês) ao clímax apoteótico da faixa “Shogun”, cujo refrão é uma reprisa do motivo musical presente nos acordes acústicos que abrem a primeira faixa.
A performance instrumental é mesmo o ponto focal deste disco, que acabou por marcar a despedida do baterista Travis Smith, um dos membros fundadores. Saiu em glória, no entanto, registando o seu melhor trabalho de percussão até à data, ao encher os seus padrões rítmicos com deliciosos pormenores e preenchimentos impecáveis, demonstrando uma sintonia umbilical com o seu colega de sector, o baixista Paolo Gregoletto. Nas 6 (e 7) cordas, as linhas melódicas de Matt Heafy e Corey Beaulieu abrilhantam os riffs igualmente espectaculares, e os solos – utilizados sempre nos momentos certos e com um sentido de precisão impecável – aprimoram, com mestria, as composições onde surgem.
Entre os dois pontos siderais que marcam início e final desta cativante viagem à era dos samurais, «Shogun» vai apresentando um extenso rol de clássicos modernos, onde, ao longo da audição, cada música vai aparentando ser melhor do que a anterior, dando a sensação de que toda a banda se encontra a participar num impressionante jogo de auto-superação pessoal, o que faz com que cada faixa mencionada possa ser um destaque só por si.
Em jeito de resumo, e procurando somente oferecer alguns pontos de referência para um novo ouvinte desta obra-prima, posso referir “Down From The Sky”, “Into The Mouth Of Hell We March” ou “Of Prometheus And The Crucifix”, juntamente com os temas referidos nos parágrafos anteriores. Mas o melhor é mesmo ouvir tudo. Várias vezes.
- Metallica – «Master Of Puppets» (Elektra/Vertigo, 1986)

Os altos e baixos da carreira dos Metallica são mais que conhecidos. Sagradas escrituras que para si reclamam a designação de “lendárias”, são parte nuclear da história da música – dos humildes começos como jovens pioneiros do thrash à ascensão ao topo do mainstream, passando por inúmeras provações e controvérsias, que, por várias vezes, ameaçaram terminar de vez com a maior banda de metal do mundo.
Com o disco epónimo de 1991 – vulgarmente denominado «Black Album» –, os californianos transcenderam as até então limitativas barreiras da música extrema e viveram anos de expansão em grau alucinante, gerando ondas enormes de debate, com o lançamento de álbuns como o, a meu ver injustamente subestimado tandem «Load» / «Reload», ou o infame processo Napster, entre tantos outros exemplos.
Porém, antes de tudo isto, a banda iniciou o seu percurso aos apalpões, realizando os seus sonhos ao brincar com um género musical que, à data, não era mais que uma tela em branco, capaz de ser pintada de qualquer cor e utilizando qualquer técnica. Recuemos, então, aos princípios da história: após o rebelde «Kill ‘Em All», e o já mais amadurecido «Ride The Lightning», surgiu o álbum que analiso neste ponto, e que é, em enormíssima escala, considerado o topo da carreira composicional dos Metallica, bem como um dos melhores álbuns de metal de todos os tempos, se não mesmo o melhor.
Nos dias que vivemos, é fácil olhar para este «Master Of Puppets» e reconhecer o seu estatuto de clássico incontornável, tamanha é a sua adoração, mas, fazendo um esforço para transportar a mente para o cenário dos meados da década de 80, analisando então estas composições aos olhos da época, o disco ainda se torna mais interessante: a complexidade instrumental e estrutural dos temas fez com que a banda atingisse algo que até então parecia impossível, ao aproximar, aos olhos do público geral, o thrash metal – estilo musical tão agressivo e, à data, ainda percepcionado como extremamente juvenil – a uma qualquer sinfonia clássica ou peça de música erudita. O carrossel de texturas sonoras da faixa-título é exemplificativo desta ideia, tal como as dissonâncias que cobrem o midpace sinistro de “The Thing That Should Not Be”, com as suas até então pouco escutadas referências às obras de H.P. Lovecraft (outro ponto importante no capítulo da legitimação da música pesada para o qual os Metallica tanto contribuíram).
Uma das características mais fortes do disco reside precisamente na vincada aposta em padrões melódicos extremamente intricados, frutos das influências externas que os membros da banda trouxeram para o seio da mesma, como Thin Lizzy, David Bowie ou até mesmo J.S. Bach. “Welcome Home (Sanitarium)” é uma das músicas mais representativas deste gosto particular pelo melódico, mas também “Leper Messiah”, ou a própria “Battery”, cuja introdução acústica representa um contraponto muito intrigante para os ritmos frenéticos e riffs cortantes que acabam por definir o grosso do tema. No capítulo de músicas agressivas e velozes, “Damage, Inc.” merece também uma nota de honra, pela ferocidade impiedosa, a fazer lembrar os tempos do «Kill ‘Em All».
O trabalho de guitarra de gala, cortesia de um duo James Hetfield + Kirk Hammett no topo da sua forma é acompanhado pelo desempenho estelar do baixista Cliff Burton, que aqui apresenta o seu mais icónico corpo de trabalho, do qual a faixa “Orion” se ergue como estandarte máximo, neste que seria também o seu canto de cisne, uma vez que o músico viria a falecer tragicamente, num acidente de autocarro, durante uma das digressões europeias da banda. Obviamente, o álbum seguinte já não contou com Burton, mas é, também, um disco digno de (muito) destaque. Mas já lá vamos, no número seguinte…
- Metallica – «…And Justice For All» (Elektra/Vertigo, 1988)

Como referido no ponto anterior, o «Master Of Puppets» é geralmente considerado, do ponto de vista musical, como o ponto alto da carreira dos Metallica, bem como um dos álbuns de metal mais influentes de todos os tempos, justificando por isso o seu merecido lugar de destaque na bíblia da música pesada. Qualquer álbum que tivesse a dura tarefa de o suceder teria dificuldades em atingir o seu nível de reconhecimento, mas isso não significa que não o merecesse. Para piorar (ou melhorar?) esta questão, esse álbum ainda teve o fado de ficar na história como antecessor do maior sucesso comercial da banda, o epónimo disco de 1991.
Obviamente, sendo nós uma espécie capaz de interpretar rankings, o 2º lugar ganha ao 3º, o que indica que prefiro este «…And Justice For All» ao «Master Of Puppets», algo que à primeira vista pode parecer uma avaliação completamente contrária à corrente de pensamento geral, tomando em conta o estatuto deste último. Ora, apesar de, em termos de percentagem, esta afirmação provavelmente até corresponder à verdade, não é de todo incomum ouvir por aí que o disco cuja capa denota uma visão muito critica acerca do real peso da justiça na sociedade é o melhor momento da banda norte-americana, pelo que estimo que esta não será a opinião mais chocante que incluí neste artigo.
Lançado em 1988, num período particularmente conturbado na história dos Metallica, por via da trágica morte de Cliff Burton, «…And Justice For All» foi o primeiro disco que contou com a participação de Jason Newsted, ele que acabaria por ficar a cargo das 4 (e 5) cordas durante mais de uma década, e tendo sido aqui estreado com uma mistura muito estranha, na qual o volume do seu baixo roça o inaudível, o que, optando ingenuamente por acreditar na bondade dos envolvidos, pode ser interpretado como um tributo ao seu falecido companheiro de armas.
No que toca aos campos de composição e execução, este disco mostrou ao mundo um lado bem mais negro dos titãs do metal, acrescentando melodias sinistras e pessimismo lírico à exploração de caminhos musicais mais progressivos, que tinha sido iniciada em «Ride The Lightning». Temas como a faixa-título, “The Frayed Ends Of Sanity” ou a divinal “The Shortest Straw” são um espelho perfeito para a evolução que os Metallica viveram, com estruturas ainda mais complexas do que as do anterior disco, enquanto “Blackened” ou “Dyers Eve” captam na perfeição a fúria da dor que os integrantes da banda tinham nos seus corações, sendo ferozes hinos thrash, que não ficam a dever nada aos anteriores clássicos da banda.
O disco tem também interessantíssimas explorações pelo midpace, com “Eye Of The Beholder” e “Harvester Of Sorrow” a fazer lembrar “For Whom The Bell Tolls” ou “The Thing That Should Not Be”, mas sempre banhadas pelo negrume da atmosfera negativa, que também ‘contamina’ a instrumental “To Live Is To Die”, que contém uma das últimas contribuições líricas do falecido Cliff Burton, bem como a lendária “One”, que completou a famosa trilogia de épicas baladas metálicas, fazendo assim companhia a “Fade To Black” e “Welcome Home (Sanitarium)”. “One”, que se tornou um dos temas mais icónicos da história da banda, contou também com um vídeo extremamente impressionante, que utilizou imagens do filme de guerra «Johnny Got His Gun», no qual um soldado se encontra numa cama de hospital, completamente incapacitado, por via da perda de todos os seus membros, bem como qualquer capacidade de comunicar verbalmente, rezando a cada segundo que o deixem morrer, pois cada momento passado em vida representa pura agonia.
Este é um ponto perfeito para rematar aquilo que «…And Justice For All» é: um conjunto de temas absolutamente geniais, que demonstram a crueza da perda; é uma manifestação artística de um grupo de seres humanos que encontram pouca esperança no mundo, mas que mesmo assim procuram canalizar a raiva e a tristeza para a criação de algo que os motive a continuar.
«…And Justice For All» nunca será tão aclamado como «Master Of Puppets», e nunca terá o sucesso comercial que o seu sucessor «Black Album» teve, muito por culpa de ocupar o ingrato lugar cronologicamente intermédio em relação a estas duas obras, mas o facto de estar entre os dois maiores marcos da carreira dos Metallica também lhe oferece um charme muito próprio, que penso ser um dos aspectos que mais atrai a atenção dos inúmeros fãs que estão dispostos a ir além daquilo que é a opinião generalizada, e isso é um testamento ao génio por trás deste disco – um disco que não é para todos, mas sim apenas para aqueles dispostos a dar de caras com um dos lados mais negros da existência humana. Uma obra-prima que, em parte, ganha esse estatuto por viver na sombra mediática de outras duas obras-primas.
- Machine Head – «The Blackening» (Roadrunner Records, 2007)

Nascidos das cinzas dos Vio-Lence, banda que apenas recentemente alcançou relativo e discutível estatuto de culto pelos trabalhos que editou, sobretudo na década de 80, os Machine Head, do carismático e controverso Robb Flynn, deixaram uma marca bem vincada no panorama metálico dos anos 90 com o lançamento de «Burn My Eyes», um arrojado manifesto de agressividade sónica, copulada com uma atenção enorme ao groove, característica que na altura vigorava, pela mão de bandas como Pantera, Sepultura ou Prong. Os trabalhos seguintes não foram tão bem recebidos, com as explorações nu–metal de discos como «The Burning Red» a alienar muitos fãs, muitos dos quais prontamente voltaram ao barco ao escutar os primeiros acordes de “Imperium”, faixa de abertura de «Through The Ashes Of Empires», lançado em 2003.
Hoje em dia, a valia do nome do quarteto da Califórnia é sobejamente reconhecida dentro do meio, sendo o seu estatuto de lenda-viva justificado pela recente sequência de álbuns de elevadíssima qualidade, que também foram extremamente bem recebidos (digamos que talvez até ao lançamento de «Catharsis», pelo menos). Rebobinando um pouco a cassete, urge compreender que apesar do já mencionado «Through The Ashes Of Empires» ter sido o primeiro sinal de renascimento dos Machine Head, o verdadeiro ponto de viragem deu-se no ano de 2007, através da obra que é, indubitavelmente, a sua magnum opus, «The Blackening».
Com um conjunto de temas cujo conteúdo lírico explora várias facetas da revolta humana, como guerra, amor, falso patriotismo, religião organizada ou até competição exacerbada, bem como toda uma componente visual extremamente bem conseguida, baseada numa interpretação marcadamente noir de toda a estética das gravuras medievais e derivantes associadas, «The Blackening» recebeu inúmeras honras, das quais talvez a maior seja a nomeação como álbum de metal da década, por mão da conhecida revista Metal Hammer, em 2010. Ao escutar o disco, a razão desta atribuição é perfeitamente perceptível.
Comummente denominado o «Master Of Puppets» dos 2000’s, trata-se de um trabalho musical incrivelmente dinâmico, cuja mestria composicional faz com que 61 minutos de música passem autenticamente a voar, tamanha é a qualidade das intricadas e complexas estruturas, repletas de melodias antémicas, riffs de peso esmagador, intercalados com belos interlúdios de som límpido e padrões rítmicos floreados, que oferecem um pano de fundo surpreendentemente, e inegavelmente refinado, aos urros viscerais de Flynn. Poucas vezes o thrash metal soou tão fino, enquanto logrando não comprometer a ferocidade e a intensidade, características nucleares do género.
É mais um daqueles (óptimos) casos em que qualquer canção mereceria ter-lhe dedicada um parágrafo inteiro, o que me força a ser cirurgião na escolha de palavras que consigam, de alguma maneira, descrevê-las de modo a fazer justiça à sua genialidade: “Clenching The Fists Of Dissent” e “A Farewell To Arms” são duas épicas viagens aos cenários mais negros da guerra, que abrem e fecham o álbum, respectivamente, e no seu interior contêm alguns dos melhores solos de guitarra alguma vez gravados num trabalho de música orientada para o instrumento; “Beautiful Mourning” e “Aesthetics Of Hate” dois manifestos à dor, carregados de ódio e escuridão, tal como a mais directa “Slanderous”; “Now I Lay Thee Down” é uma irónica canção de amor e morte, com referências líricas ao conto Shakespeariano de Romeu e Julieta; “Wolves” será, talvez, a faixa menos erudita em termos líricos, mas é uma das mais interessantes no sector rítmico, cortesia da metralhadora humana Dave McClain.
E depois há “Halo”, uma música de protesto à religião, que fez o ateísmo militante soar mais são do que nunca, através dos seus validíssimos argumentos acerca do tema em questão, luxuosamente acompanhados por melodias capazes de, por si só, catapultar os Machine Head para o centro do panteão politeístico dos deuses da música pesada. Como, de resto, ocorreu.
Em suma, penso que «The Blackening» é muito mais do que um simples álbum de metal, mas antes o espelho da realidade da sua altura, um espelho nada elogioso (ver a capa) e bem encharcado do sangue, suor e lágrimas dos seus compositores, cujo único objectivo sempre foi criar uma peça que lhes fosse sincera e verdadeira, tendo acabado por ir muito além de tão nobre princípio.
Perfeitamente consciente do que me preparo para escrever, arrisco dizer que a importância de «The Blackening» ainda é muito pouco apreciada nos dias que correm, e que o mesmo será visto, a seu tempo, como aquilo que «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», «Thriller», «Nevermind» ou o próprio «Master Of Puppets» foram, nas suas respectivas épocas – uma obra musical que transcendeu qualquer noção de género e se colocou num patamar de excelência universal, uma representação icónica de toda uma geração de fãs de música de um determinado quadrante do espectro, que viu a reclamação de relevância social e artística desse mesmo quadrante ser vingada, através destas 8 canções.
«The Blackening» será, a seu tempo, considerado lendário. Para muitos já o é, e tenho orgulho em dizer que sou um deles. É o álbum de metal da década e veremos se não será mesmo o do século.
[quadsvi id=1]
Support World Of Metal
Become a Patron!
New WOM Android APP – Read All Our Issues for free!
World Of Metal Magazine – Out Now
Download It Here!